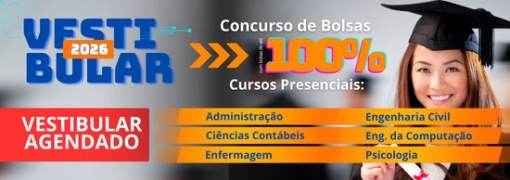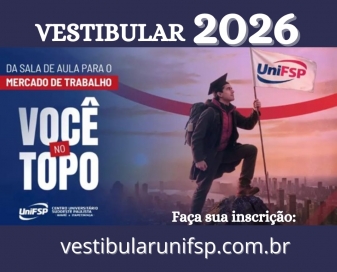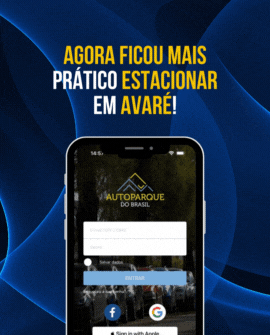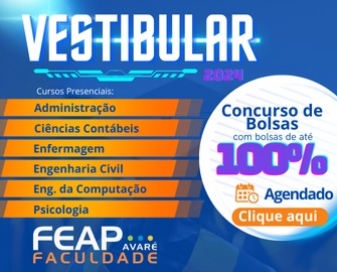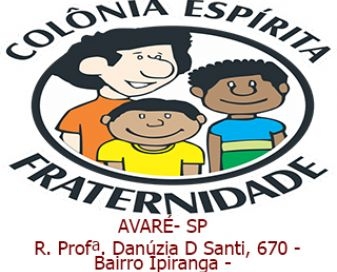Por Alberto Silva - Aprendemos que a diferença do ser humano para os demais seres é a sua capacidade de raciocínio que decorre, obviamente, da titularidade que possui em relação à razão. Essa linha de pensamento é consequência da escala hierárquica e moral que estabelecemos em relação aos chamados “animais” e, portanto, da ideia de que a espécie a qual pertencemos deve ter o pleno domínio da natureza e a prerrogativa de usufruir dos recursos que essa dispõe em razão da superioridade que carregamos (alguns baseiam tal usufruto na ideia de que nós, assim como os animais selvagens, estamos inseridos em uma cadeia alimentar). Esse predomínio justificado filosoficamente ou, por assim dizer, “despotismo esclarecido” de homens e mulheres sobre a fauna e a flora tem inclusive um nome, muito utilizado pelos militantes de causas vegetarianas e veganas: especismo.
Dessa forma, a racionalidade humana não só autorizaria um vasto uso da vida existente para obtenção de benefícios, a exemplo dos testes experimentais para indústria farmacêutica, como seria o elemento-chave para coordenação da própria existência dos demais seres vivos (quantas árvores devem ser cortadas, quantos cavalos devem ser explorados para transporte e corridas, quantas galinhas devem ser abatidas etc.) dentro da lógica de uma economia capitalista. Aqui trato de esboçar um determinado quadro e não tomar partido da causa vegana, vegetariana. Como alguém que se alimenta diariamente da carne e leite de outros animais, utiliza roupas que provavelmente foram feitas com lã e utiliza remédios testados em ratos de laboratório, considero inevitável que animais e plantas tenham de morrer para que o progresso humano seja efetivado. A menos que a tecnologia se desenvolva suficientemente para termos protótipos de animais e/ou plantas. Uma situação oposta só mostraria o quão cruel é esse jogo de soma-zero. Meu ponto central é que talvez não seja a razão que nos diferencie dos outros animais.
Para Karl Marx, como bem destaca Hannah Arendt em “A Condição Humana”, é o labor, capacidade laboral ou trabalho quem nos faz distintos na natureza. Um leão, uma gaivota, um peixe ou um macaco pautam sua existência na pura e simples sobrevivência. Todo esforço que é empreendido por esses decorre naturalmente de um determinado ciclo vital que dificilmente se altera, a não ser que hajam externalidades causadas pela – ora, ora – ação humana. Mesmo determinadas médias de vida em algumas espécies raramente são ultrapassadas, o que implica dizer que a vida de um animal não-humano é um figurino fatalmente desenhado pelos céus. O homem, por sua vez, empreende o seu trabalho (físico ou intelectual) como algo externo a sua evolução corporal, o que implica dizer que seu esforço nesse sentido pode ter outros fins que não o de sobreviver, como o de acúmulo. Além disso, a trajetória humana é marcada por imprevisibilidade.
A própria Arendt trata de contestar essa tese marxiana do animal laborans em seu livro. Não constituiriam as espécies no dia-a-dia dos seus habitats formas “exóticas” de trabalho como a caça ao alimento, a reprodução para a perpetuação da espécie (uma “laboralidade” acoplada às funções corporais) e a construção de abrigos como as abelhas e suas colmeias? Provavelmente sim. Por outro lado, há quem suponha que a existência de uma individualidade que pressupõe a cultura do espírito (a introspecção, a filosofia, a reflexão) seria o fator diferenciador dos homens em relação aos outros animais. Nós teríamos personalidade; vacas, bois, formigas ou joaninhas não. Essa noção equivocada ignora que as ideias de “personalidade” ou “indivíduo” foram historicamente construídas e concernem ao período pós-renascentista e pós-reforma Protestante na Europa, que teve larga influência – via colonização – com os processos de secularização no continente americano e nas demais colônias da Ásia ou da África. Nos primórdios, subsistia o apagamento do “eu” e noções mais coletivizadas de pensamento. Logo, “indivíduo” é uma noção moderna. E sabemos que o pensamento em si não justifica oposição com outros seres, já que é possível detectar formas de raciocínio complexo em alguns animais, bem como a existência de pulsões sexuais, emoções e noções fortes de comunidade e família, assim como nos seres humanos.
Desmonta-se, por fim, a ideia de que possuímos inteligência e os animais não, já que o constructo das noções citadas anteriormente pressupõe algum grau de inteligência que não pode ser medida a partir dos sofisticados parâmetros de que dispomos. Sendo assim, minha tese é de que na verdade o que nos diferencia dos demais animais é a maldade. Nenhuma outra espécie foi capaz, vejam só, de matar tanto em tão pouco tempo (os semelhantes), de produzir tantas ditaduras e genocídios, de provocar tantas destruições, saques, torturas e envenenamentos. Tudo isso com fins espúrios: sejam conquistas territoriais, por poder político ou econômico; seja por motivações individuais, descontrole, ódio, raiva, ânsia, prazer e discriminação. A vida, como sempre, e as dores alheias são pouco levadas em conta. Todo dia assistimos há assassinatos e estupros, escravidão e exploração, declarações de ódio e ausência de cooperação, acidentes motivados e hostilidades, apartheids e humilhações. Sob aplauso de muitos. Mas como? Perguntamo-nos. Que outro animal se não o homem produz tão belas atrocidades?
Talvez Rousseau estivesse certo, talvez Rousseau estivesse errado. O “homem” nasce bom e a sociedade o corrompe? O problema é o modo como à civilização foi forjada? Ou o “homem” nasce mau e a sociedade apenas trata de ser o espaço para o exercício de suas inclinações? Ou isso varia de pessoa para pessoa, de sujeito para sujeito? Tendo ainda a concordar com a primeira assertiva, quero ainda ter fé na humanidade. Fé de que as dores e mais dores causadas são frutos de espaços históricos em que sobra rancor e falta empatia. De um arranjo civilizacional mercantil errôneo. Quem sabe, um dia, então, não melhoremos e sejamos tão bons como os outros animais.