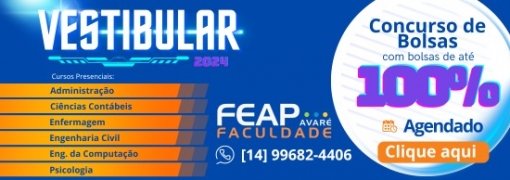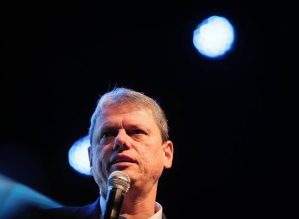História - O PCC: crime S.A.
Houve uma época em que os criminosos eram simpáticos. Com chapéu de lado e navalha no bolso, os malandros passeavam pelas ruas cometendo pequenas transgressões, aplicando golpes e tentando ganhar a vida do jeito que desse. Ao menos era assim que o mundo do crime era visto – e homenageado – em livros, músicas e filmes. Até ladrões de casas e de joias poderiam se tornar celebridade.
Cerca de meio século depois, no mês passado, o retrato do crime era outro. O Primeiro Comando da Capital (PCC), uma facção criminosa nascida nas cadeias de São Paulo, aterrorizou a capital paulista a ponto de fechar lojas, parar o trânsito e, na prática, instituir um toque de recolher na cidade. Uma operação tão bem organizada que, nas piadas que circularam na capital nos dias seguintes, se dizia que, nas próximas eleições, o ideal seria não votar nem no PT nem no PSDB, mas sim no PCC, que costuma ter ações mais eficientes.
Não era a única quadrilha a demonstrar organização em suas ações no país – e nem os partidos políticos são a melhor metáfora para explicar o nosso crime organizado. Tanto as chamadas facções criminosas como as grandes quadrilhas especializadas nas diversas atividades fora-da-lei assemelham-se muito mais a grandes corporações do mundo empresarial. Elas não disputam poder com o Estado, embora demonstrar força faça parte da sua estratégia de posicionamento. Lidam com negócios que vão do tráfico de drogas à venda de ambulâncias superfaturadas. É praticamente impossível calcular quanto cada um desses setores do crime movimenta, mas estimativas apenas sobre o tráfico de drogas apontam que este movimenta cerca de US$ 1 trilhão no mundo por ano. Pelo Brasil, grande consumidor e ponto importante de várias rotas de transporte de entorpecentes, passaria uma boa parte disso.
Não houve um grande passo que levou o malandro romantizado do início do século 20 ao crime organizado e violento de hoje. Em pequenos passos e se aproveitando de várias das mudanças pelas quais o país passou ao longo desse tempo, os criminosos foram se tornando mais profissionais. E um dos primeiros motivos dessa mudança foi, à primeira vista, bem inocente: o crescimento das cidades.
Ladrões de rua
Nos anos 70, o crescimento econômico levou muitas pessoas a sair do campo em direção às cidades. Em 1970, 56% da população brasileira vivia em regiões urbanas. Dez anos depois, esse índice passou para 67,6% e, em 1996, já era de quase 80%. Só que, ainda nos anos 80, a situação havia mudado para essas famílias de migrantes: a economia havia enfraquecido e, evidentemente, não oferecia muitas oportunidades de trabalho ou moradia. “O problema não era só pobreza, mas também a urbanização precária, a desigualdade e a falta de chance de ascender socialmente. São questões muito mais complexas que a pobreza”, diz José Marcelo Zacchi, coordenador institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma união de Ongs relacionadas à segurança.
Para muitos, ingressar na economia ilegal se tornou uma alternativa atraente. Espaços não faltavam: periferias e favelas, os terrenos que mais cresceram com a chegada de novos moradores à cidade, estavam pouco atendidos pela polícia e pelos serviços governamentais. Eram, enfim, lugares propícios para atividades criminosas. “São zonas de marginalidade, que tendem a se autorregular sem a presença do Estado”, afirma José Marcelo. Até esse momento, o crime ainda mantinha um pouco daquela aura da malandragem, de saber se virar pela cidade. O que mudaria tudo, e em pouco tempo, era o surgimento de novas oportunidades de negócios ilegais – e o volume de riqueza que passariam a movimentar.
Até os anos 80, as estruturas criminosas limitavam-se ainda a quadrilhas de ação localizada. E ao jogo do bicho. Ele surgiu no Brasil no fim do século 19, em uma situação inusitada – o dono do antigo Jardim Zoológico de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, vendo-se diante da falência, estimulou a visitação trocando o ingresso por um papel com o nome de um dos 25 animais do parque; o animal sorteado pagava 20 vezes o preço do ingresso. Até ser proibido na década de 1890, era um jogo aristocrático, com os resultados dos sorteios publicados nos jornais. Desde então, mantém a popularidade entre as classes mais baixas graças, em parte, à facilidade na aposta, uma vez que se pode jogar qualquer quantia. Além disso, é até hoje considerado contravenção e não crime, o que ajuda os bicheiros a formar quadrilhas poderosas. Não à toa, muitos especialistas consideram que ainda hoje eles são o grupo mais representativo do crime organizado no Brasil. “O jogo do bicho contempla boa parte da definição desse termo: tem território definido, faz lavagem de dinheiro e tem forte penetração na máquina do Estado”, diz Michel Misse, coordenador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana (Necvu), da UFRJ.
O grande divisor de águas, que tornaria o crime organizado muito mais complexo e violento, foi a entrada com força da cocaína no mercado nacional. A gestão diária do jogo não exigia uma estrutura muito complexa, mas as drogas sim. Para operar nesse novo mercado, era preciso montar quase uma indústria, com estratégias para criar e manter pontos- de-venda e sistema de transporte para garantir a oferta constante. “A logística da economia da droga exigiu mudanças estruturais na forma como os grupos atuavam”, diz a antropóloga Jacqueline Muniz, ex-diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública e professora da Universidade Cândido Mendes (Ucam), do Rio de Janeiro. Em especial, era preciso mais gente envolvida. E é com o tráfico que a imagem positiva do malandro – “aquela de saber se virar pela cidade” – é substituída pela do bandido feio e mau.
O aumento de complexidade da atividade criminosa significa, também, o crescimento da violência. Não é de espantar: a violência é uma das formas de administrar esse novo negócio. É preciso garantir segurança em todas as etapas de operação e, como diz Jacqueline, “se não há leis para garantir o funcionamento, existe a arma”. Daí a aceleração paralela de outro setor do crime, o tráfico de armas. Dados do Necvu mostram o paralelismo dos dois tráficos: em 91, foram feitas 1 866 apreensões de entorpecentes e de 3 958 armas na cidade do Rio de Janeiro. Em 2005, os números são 11 761 e 14 876. “Na verdade, esses grupos trabalham com uma relação de confiança e desconfiança mútuas entre seus membros. A linha tênue pode romper-se rapidamente”, diz Michel Misse. Mas, mesmo com mais violência, os traficantes continuavam a ter relações entre si e com as comunidades ao redor de forma bem parecida com a praticada pelos bicheiros.
De um modo geral, traficar drogas era um trabalho que exigia o emprego de uma mão-de-obra maior do que as atividades criminosas mais comuns até ali. Com muita gente no crime, aumentou também o número de prisões relacionadas ao tráfico. A população carcerária explodiu. E isso teve consequências graves no modo como o crime operava.
Onde nascem as gangues
Da mesma forma que o crescimento da população nas cidades levou ao aumento da criminalidade, o crescimento da população nas cadeias levou à radicalização do crime. O berço das principais facções criminosas do Brasil são os presídios. Aqui, como em outros países, o melhor lugar para o crime se organizar ou aumentar seu poder é atrás das grades. “Há vários casos no mundo, inclusive de movimentos religiosos, como os islamitas americanos. É angustiante que isso apareça exatamente entre os bandidos que estão sob a tutela do Estado”, diz Norman Gall, do Instituto Fernand Braudel, uma ong de pesquisas econômicas e sociais.
A primeira a sair dos presídios brasileiros foi o Comando Vermelho (CV), ainda na década de 1970. Posteriormente, ela teria dado origem a todas as demais grandes facções cariocas (veja quadro na página 80). Acredita-se que seus primeiros líderes tenham convivido com grupos guerrilheiros de esquerda no presídio Cândido Mendes, em Ilha Grande, Rio de Janeiro, e se inspirado neles para criar sua organização (daí o “vermelho” no nome). A princípio, eram apenas quadrilhas de ladrões tentando criar uma unidade para facilitar seu trabalho. Com a chegada das drogas, tornou-se um grupo voltado para o tráfico. A primeira consequência foi exacerbar dois componentes que já existiam no bicho: o terror aplicado àqueles que se voltassem contra a facção e o assistencialismo à comunidade. Houve até uma época em que o Comando Vermelho especializou-se em uma tática Robin Hood: assaltar caminhões com mercadorias e distribuir para os moradores das favelas.
Se as prisões são o berço de tantas organizações criminosas, isso não é por acaso. Em primeiro lugar, é um espaço em que os fora-da-lei mais experientes podem transmitir seus conhecimentos para os mais jovens – uma escola, por assim dizer. Em segundo, a situação das cadeias brasileiras sempre foi tão degradante que acabou exigindo dos presos alguma organização própria. “Na verdade, alguns grupos surgem como uma forma de os próprios presos se protegerem das mortes e dos estupros nas cadeias”, diz o cientista político Guaracy Minguardi, do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (Ilanud). As várias tentativas dos presos ao longo da história de se organizarem e discutirem com as autoridades uma solução para o abandono e o desrespeito a que são submetidos também ajudaram a criar as facções. “Mas qualquer tentativa de se organizar era vista como dotada de propósitos ilegais, o que eliminava a possibilidade de diálogo”, diz Jacqueline. Nesse cenário, é fácil a ascensão de qualquer líder – por mais tirano que seja – com a mínima chance de organizá-los em torno de suas reivindicações. Não por acaso, e por mais que pareça irônico, o CV diz ser seu objetivo a luta pela liberdade, pela justiça e pela paz. E essas mesmas 3 palavras estavam pintadas no chão dos pátios dos presídios na primeira megarrebelião organizada pelo PCC, em 2001. “A reivindicação de melhorias nas cadeias é uma estratégia de cooptação de membros e de validação dessas organizações criminosas”, diz José Marcelo.
Rede do crime
Estava nascido o crime organizado no país. Favelas e periferias haviam fornecido o território; os presídios deram origem à organização, aos funcionários e a um motivo de existir; as drogas trouxeram dinheiro, muito dinheiro, tanto que acabou criando um efeito cascata que estimulou várias outras redes criminosas.
À medida que aumentou o comércio ilegal de drogas, cresceram também crimes como roubo de carga, assalto a bancos, sequestros, pirataria e contrabando. Não foi necessariamente por financiamento dos traficantes, ou por interesse deles em diversificar os negócios. Uma das formas como eles estimularam outras redes criminosas foi criando um mercado consumidor de produtos ilegais – afinal, traficar não é fácil e, como em qualquer empresa, envolve uma cadeia produtiva complicada. Daí o estímulo a redes de compra ilegal ou roubo de cargas químicas (para refino da coca, por exemplo), de tráfico de armas (para municiar os pontos-de-venda) ou de lavagem de dinheiro (para legalizar as fortunas ganhas com o tráfico). É sabido, por exemplo, que líderes do PCC e do CV trocam figurinhas, embora não se tenha definido exatamente para quê. “As facções formam cadeias de negócios”, diz José Marcelo. “São sócias ou parceiras, mas não precisam fundir uma ‘empresa’ com a outra.”
Outro motivo para a diversificação da criminalidade foi que, assim como os bicheiros abriram caminho para as redes de tráfico, essas criaram rotas de distribuição e contatos dentro da burocracia estatal que, depois, serviram também a outras quadrilhas. Um exemplo é o Cartel de Medellín, na Colômbia, que, sem abandonar o tráfico, usou a sua infraestrutura para fornecer serviços a outras organizações. “Em um dado momento, ele se especializou no transporte de drogas. Abriu rotas, modelos de segurança, tornou-se um DHL do crime. Depois disso, essa estrutura serviu a todo tipo de tráfico, do contrabando ao comércio ilegal de biodiversidade”, diz Jacqueline.
A interligação dessas redes ganhou um bom aliado com a tecnologia. Assim como os líderes do PCC encontraram nos celulares uma forma de organizar a facção mesmo de dentro do presídio, várias ferramentas de comunicação auxiliam as redes criminosas a se expandirem.
Existe, entretanto, uma ferramenta que, para os criminosos, é mais importante do que todas as outras: a corrupção. Em maior ou menor grau, todas dependem de algum tipo de infiltração no aparelho do Estado para prosseguir com suas atividades. Alguns pesquisadores chegam a considerar que o nível de corrupção é o que diferencia cada organização. “Não dá para comparar o nível de organização do PCC com o da Operação Sanguessuga [de compra superfaturada de ambulâncias envolvendo deputados federais]. O PCC não tem adeptos de alto escalão”, diz Adriano de Oliveira, do Núcleo de Instituições Coercitivas da Universidade Federal de Pernambuco. Diferentemente das quadrilhas envolvendo altos funcionários, o PCC e outras organizações criminosas que não aquelas que surrupiam diretamente o erário público encontram brechas no governo com a mesma técnica que usam no controle interno da organização: a intimidação. Usando diferentes níveis de violência, eles podem conseguir favores no sistema policial, judicial ou penitenciário. “Um carcereiro pode ser corrompido por dinheiro ou ser intimidado por ameaças de um preso que sabe onde sua filha estuda e a que horas sai da escola”, diz José Marcelo.
E agora?
Todos os especialistas concordam que o grande culpado pelo crescimento do crime organizado são os vazios deixados pelo Estado. A criminalidade prospera graças às brechas abertas pela corrupção e pela desproteção policial.
O ideal seria, com ações sociais, resolver os próprios fatores que deram origem às facções, como a superlotação nos presídios, a desigualdade e as áreas não atendidas pelo Estado. Essa é, no entanto, uma estratégia de longo prazo e que tampouco pode ser justificada apenas pelo combate à criminalidade.
De imediato… bom, de imediato, não há consenso sobre o que fazer. Os episódios registrados em São Paulo no último mês tendem a acirrar o debate sobre as soluções. Quase sempre, eles desembocam em cobranças sobre a Justiça para que seja “mais dura”, com penas maiores. Apesar de popular, é uma das poucas propostas em que os especialistas estão de acordo: ela não funciona. A frase parece batida, mas resume bem o espírito da ideia: não é o tamanho da pena, mas a certeza de sua aplicação que tem realmente algum efeito. Existem várias sugestões, cada uma mais ou menos viável. Difícil dizer qual delas é a mais promissora. Assim como fazem os criminosos, o ideal talvez seja atacar em várias frentes. E rápido.(DaS.Interessante)