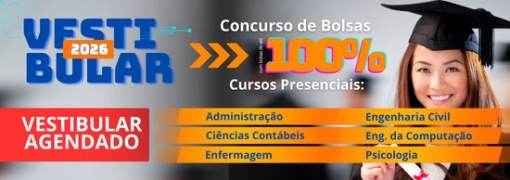O ano se esvai como areia entre os dedos. Um punhado de dias ainda resiste no calendário, teimando em existir, mas já sinto o vazio que se aproxima — aquele silêncio peculiar que se instala entre o último estrondo de fogos e a primeira manhã de janeiro. E me pergunto: para onde vai tudo isso que vivemos?
Somos peças. Peças jogadas num tabuleiro que não desenhamos, movidas por mãos que nem sempre vemos. Passamos algumas poucas décadas deste lado — respirando, amando, sangrando — e depois... ah, o depois. Esse véu espesso que ninguém consegue erguer completamente. Uns chamam de céu, outros de nada. Eu chamo de silêncio. Um silêncio tão profundo que até o eco dos nossos maiores gritos se perde nele.
A solidão é uma morada que construímos sem perceber. Estamos mais sós do que antes, embora mais conectados. Cercados de vozes que falam sem dizer, de sorrisos que iluminam sem aquecer. Percebi que amigos são como estrelas cadentes: raros, breves, mas que, quando riscam o céu da nossa existência, iluminam tudo. O resto? Gente que só quer ficar ao lado de quem está no pódio. Ninguém se aglomera ao redor da dor alheia. A tristeza não atrai plateia.
Há tanta amargura em viver. Sim, digo isso com a coragem de quem já engoliu o gosto acre da desilusão. Amargura nos pequenos fracassos, nas promessas quebradas, nos abraços que foram armadilhas. Mas — e sempre há um, mas — há também tanto amor a sentir. Um amor que dói, porque amar é se tornar vulnerável. É entregar ao outro uma faca e mostrar onde estão as veias.
A angústia é uma sombra que se alonga com o crepúsculo. Sinto-a agora, enquanto relembro rostos que se tornaram memórias, vozes que se transformaram em sussurros distantes. A saudade é uma ferida que não cicatriza — apenas aprende a doer de forma mais suave, até que uma música, um cheiro, um lugar, a rasgam novamente.
E no meio desse turbilhão, a esperança. Frágil, teimosa, irracional. Uma pequena chama que sopra ao vento mas se recusa a se apagar. Talvez porque, no fundo, ainda acreditemos que o amanhã pode ser diferente. Que alguma coisa pode fazer sentido.
Quando um homem ou uma mulher tem coragem de gritar que está sofrendo — quando rasga o peito e mostra o caos interno — algo miraculoso acontece. No meio da multidão indiferente, sempre há um olhar que reconhece a dor. Sempre há uma mão que se estende, não por dever, mas por compreensão. É como se, no universo paralelo da angústia, encontrássemos irmãos que falam a mesma língua silenciosa das lágrimas.
Choro enquanto escrevo. Lágrimas que vêm sem pedir licença, como visitas inesperadas que trazem tanto alívio quanto constrangimento. São águas que lavam por dentro, que dizem o que as palavras não conseguem.
O ano termina. Leva consigo dias ruins e bons, beijos que sabiam a despedida, abraços que prometiam eternidade. E nós ficamos aqui, no limiar entre o que foi e o que será, humanos frágeis e corajosos, amando e odiando, compadecendo e julgando.
Talvez a verdade mais dura e bela seja esta: estamos todos perdidos. Todos navegando no mesmo mar tempestuoso, cada um em seu barco frágil. Mas quando alguém acende um farol de coragem e grita “estou aqui, e está doendo”, outros faróis respondem. E na escuridão, formamos constelações de solidariedade.
O tabuleiro pode estar fixo, mas como nos movemos nele — isso ainda é nosso. Com amor que dói, esperança que persiste, e a coragem de dizer, em voz alta, que às vezes a vida pesa. E ouvir, na resposta do outro, o eco da própria humanidade: “Eu entendo. Você não está sozinho.”
O ano termina. E nós, com o coração em frangalhos ou sorrindode sonhos inteiros, seguimos. Porque não há outro caminho senão adiante — com a bagagem pesada de tudo que fomos, e o leve mistério de tudo que ainda podemos ser.