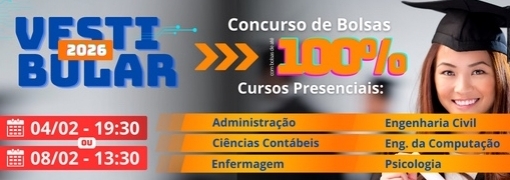O homem moderno desperta antes do sol, não para contemplar o milagre da luz, mas para prestar contas ao algoritmo. Antes mesmo de lavar o rosto e reconhecer-se no espelho, mergulha as pupilas no brilho azul do celular. Ali, sob o conforto do lençol, a jornada já começou. A cultura do trabalho em excesso transbordou de necessidade financeira para um fetiche existencial: hoje, se não estamos exaustos, sentimos que estamos falhando. Confundimos produção com vida e, por isso, o ócio nos apavora como se fosse uma pequena morte.
Transformamos a existência em um frio painel de indicadores. O "outro" deixou de ser um semelhante para tornar-se um degrau, um espectador ou, na pior das hipóteses, um ruído. Cruzamos o portal da Era do Egoísmo Absoluto, onde o "desde que eu esteja bem" é o único mandamento que restou. Vivemos uma patologia da alma onde o sucesso alheio nos causa azia e a dor do próximo nos provoca um tédio profundo e impaciente.
Nessa marcha cega para a autodestruição, o humanismo foi devorado pelo "engajamento". Encontrar um amigo real — daqueles que suportam o peso do nosso silêncio e não apenas a superficialidade de um emoji — tornou-se um exercício de arqueologia emocional. Nossas amizades agora são virtuais, líquidas e, acima de tudo, higiênicas. No tribunal digital, se o amigo nos incomoda com sua tristeza real ou uma opinião divergente, nós o silenciamos com um clique. É o crepúsculo da alteridade: não buscamos mais o próximo, buscamos apenas o reflexo de nossas próprias convicções.
As redes sociais nos prometeram a "aldeia global", mas nos trancaram em cubículos individuais espelhados. Olhamos para as telas em busca de conexão, mas o que encontramos são apenas ecos de nossa própria vaidade. A empatia, esse músculo que só se fortalece no contato pele com pele e no olhar que sustenta a fragilidade do outro, está atrofiando. Estamos nos tornando seres de altíssima performance técnica, porém habitamos um deserto emocional de proporções bíblicas.
O homem está se autodestruindo porque esqueceu que a humanidade é uma obra coletiva, um tecido que se rasga quando cada fio decide isolar-se. Ao se trancar na bolha do "eu", perdemos os anticorpos naturais contra a solidão. O futuro que estamos arquitetando não tem parques, tem servidores; não tem abraços, tem métricas. E, ao fim do dia, quando as luzes dos escritórios se apagam e o brilho das telas diminui, resta um vácuo imenso que nenhum pacote de dados é capaz de preencher.
Estamos morrendo de sede enquanto flutuamos em um mar de pixels. "O outro não importa", sussurramos para nós mesmos na escuridão do quarto, até o instante em que percebemos que, sem o outro, nós também deixamos de ser. A verdadeira finitude não é o cessar do coração, mas o desaparecimento do "nós" em favor de um "eu" inflado, reluzente, mas terrivelmente só.
*Por André Guazzelli